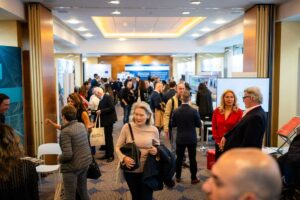1. O Quarto de Jacob, de Virginia Woolf
Arrumar a casa para o novo mundo

Depois de a Primeira Guerra Mundial varrer a Europa, Virginia Woolf (1882-1941) declarou ter tido “um ataque de riso” com a leitura do poeta Alfred Tennyson (1809-1892), um favorito da era vitoriana que assim descrevia o vazio: “Talvez o abismo nos engula/ Talvez cheguemos à Atlântida/ Talvez não tenhamos mais a força/ de mover montanhas./ Mas somos o que somos.”
A questão é que já não eram: o conflito dizimara 40 milhões de almas na Europa, esfumara a confiança do homem comum, e a literatura fazia um luto radical. Woolf apanhou estes cacos em O Quarto de Jacob, criando uma elegia sensorial e experimental que rompeu com as tradições do estilo narrativo inglês das primeiras obras, Viagem (1915) e Noite e Dia (1919). Jacob está ausente: é evocado por outros que traçam a sua biografia desde a infância, os tempos de estudante em Cambridge e de jovem adulto em Londres, até à mobilização para a guerra, de que não regressará. Um jogo de espelhos feito pela mãe, Betty Flanders, pelo amigo Richard Bonamy, pelas mulheres de Jacob: a fiel Clara, cujo amor não é correspondido, a amante Florinda, cujo rosto era “como uma flor aberta na haste do corpo”, a tentadora Sandra, que encontrou na Grécia solar. Mas os espectros pressentem-se logo nas primeiras páginas, vividas na Cornualha, onde “por qualquer motivo a beleza é infernalmente triste”: “Começamos transparentes e depois a nuvem adensa-se. A História inteira espelha-se-nos nos vidros. Fugir é em vão.”
Virginia Woolf tinha já uma quota de perdas pessoais: a morte da mãe e o desaparecimento do irmão Thoby Stephen por conta da febre tifoide. Mas o grande exorcismo de O Quarto de Jacob traduz-se na predominância das paisagens interiores. Uma crítica de 1922 caracterizou o livro como arrogante, uma “fantasmagoria” cruel e nada genial. O futuro desmentiu-a: O Quarto de Jacob triunfou como obra originalíssima e basilar do modernismo. Uma narrativa que não submetia a emoção à ação todo-poderosa e à linearidade dos acontecimentos, habitada por observações singulares e pelo desassombramento luminoso de Woolf, germinado num “quarto só seu”. Foi daqui que partiram as traves-mestras de romances inovadores como Orlando (1928) e As Ondas (1931), herança literária que sobreviveu à suicida que encheu os bolsos de pedras para entrar num outro vazio, o das águas.
2. Tractatus Logico-Philosophicus, de Ludwig Wittgenstein
A solução de todos os problemas?

Wittgenstein tinha 32 anos quando publicou, em alemão, em 1921, o texto Logisch-Philosophische Abhandlung. Dá-lo à estampa não estava a ser fácil, mas as ambições, e a autoconfiança, eram gigantes. “Creio que solucionei definitivamente os nossos problemas”, escreveu. Referia-se a nada menos do que os grandes “problemas” da filosofia ocidental ao longo dos séculos.
Escrita durante vários anos, a obra tornar-se-ia rapidamente uma referência quando saiu, em 1922, em edição bilingue (traduzida para inglês) com o título, algo pomposo, em latim: Tractatus Logico-Philosophicus. O contributo de Bertrand Russell, um dos intelectuais mais respeitados na época, que assinava o prólogo, foi essencial. “Ter construído uma teoria lógica que, em nenhum ponto, parece obviamente estar errada é ter conseguido uma obra de uma dificuldade e importância extraordinárias. Na minha opinião, este é o mérito do livro do Sr. Wittgenstein, um livro que nenhum filósofo sério se pode permitir ignorar”, lia-se.
Este livro pode parecer um intruso nestas páginas, entre obras-primas literárias. Mas a verdade é que a forma original como o Tractatus se apresenta – uma sucessão de postulados e reflexões, muitas vezes em frases breves, numeradas e longe do hermetismo de alguns textos filosóficos – também permite uma abordagem literária, até poética. Exemplo: “331. Imagina pessoas que só fossem capazes de pensar em voz alta! (Assim como há pessoas que só são capazes de ler em voz alta).”
Tractatus foi o único livro publicado em vida por Wittgenstein (Investigações Filosóficas seria editado postumamente, em 1953, dois anos depois da morte do autor) e é revolucionário, sobretudo, nos estudos sobre filosofia da linguagem e da comunicação. Frases como “os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo” são uma poderosa herança.
3. Ulisses, de James Joyce
Delírio de um dia só

Na tradução portuguesa de Ulisses, publicada pela editora Livros do Brasil, o professor universitário, ensaísta e tradutor João Palma-Ferreira não mede as palavras e diz, na introdução, que se trata de uma obra “lendária”. O adjetivo pode parecer exagerado, mas justifica-se. Como o relato de um só dia – 16 de junho de 1904, na Irlanda, “ilha de santos e sábios” – se transformou numa lenda? Livro de rutura, Ulisses espelha a viagem do herói da Odisseia, transportando o poema épico de Homero para as idiossincrasias dos primeiros anos do século XX, quando o mundo oitocentista passou definitivamente a fazer parte do passado.
Pela correspondência que mantinha com o irmão, sabe-se que já em 1906 James Joyce (1882-1941) tinha a ideia de começar a escrever Ulisses e que, logo ao terminar, em difíceis condições de saúde, durante a I Guerra Mundial, terá tido consciência do monumento – de linguagem, figuras de estilo, formas de narrar, encadear diálogos, pontuar, descrever, ironizar… – que produziu. Para a pequena história da literatura, ficou a confissão-boutade de que ele o escreveu “para entreter os especialistas durante 300 anos”. De facto, no célebre O Cânone Ocidental, Harold Bloom faz referência à audácia do escritor irlandês. “Ulisses possui um esplendor verbal que chega para equipar uma legião de romances; contudo, sentimos que a posição central do livro no cânone transcende os estilos de Joyce, magistrais como todos eles são. (…) Joyce mantém-se enigmático, sendo o seu comprometimento com Shakespeare aquilo que se me afigura como um dos poucos caminhos que ele abre para dentro do enigma”, defende o crítico literário norte-americano, desaparecido em 2019.
Entre defensores e opositores do virtuosismo técnico e da arte de narrar de Joyce, a verdade é que, nas guerras da literatura contemporânea, há um antes e um depois de Ulisses. Tornada pública, entre março de 1918 e dezembro de 1920, nos folhetins da The Little Review, a obra foi depois publicada em livro por Sylvia Beach, a editora norte-americana que fundou a livraria Shakespeare and Company, em Paris. Dividida em três partes e 18 episódios, tem início com Stephen Dedalus (Telémaco), na Torre Martello, sobre a baía de Dublin, e termina com o monólogo de Molly (Penélope), deitada na cama ao lado do marido, Leopold Bloom (Ulisses). Entre um momento e o outro, se sobreviver à epopeia, o leitor terá à sua espera longas horas de delírio.
4. Siddhartha, de Hermann Hesse
O rio, o espírito e o nirvana

Relato de uma viagem interior, Siddhartha é um daqueles livros tão especiais que se tornou um símbolo. De tal maneira assim foi que o pequeno “poema indiano” – como Hermann Hesse lhe chamou no subtítulo – se converteu num bestseller, fazendo com que, através dele, “todos” os adolescentes e jovens adultos do Ocidente procurassem afirmar-se e distanciar-se das instituições sociais mais tradicionais, sobretudo, da família e da religião. Nos anos 60 e 70 do século XX, em particular para os baby boomers, Siddhartha funcionou como um manifesto de uma certa contracultura revolucionária por parte de uma geração que aspirava ter um estilo de vida diferente do dos pais e avós. Liam Siddhartha na esperança de que a peregrinação da personagem os pudesse contagiar, transportar para um mundo livre de luxos, dogmas e privilégios. O livro tem reminiscências do percurso de vida do autor que, em 1946, acabaria por receber o Nobel da Literatura, por causa “dos seus escritos inspiradores” que, segundo a Academia Sueca, “exemplificam os ideais humanitários clássicos”.
Nascido em 1877, na Alemanha, numa família de protestantes, Hesse acabou por ir viver para a Suíça, aos 4 anos. Trabalhou em livrarias e, ainda antes do início da I Guerra Mundial, começou a viajar pelo Oriente, tendo visitado o Sri Lanka, a Indonésia, a Birmânia e, claro, a Índia, que mais tarde seria determinante na escrita de Siddhartha (tal como o seu interesse pelo budismo e pela filosofia de Schopenhauer). Num estilo lírico capaz de arrebatar os corações dos leitores que querem mudar o mundo, Hesse dá conta dessa busca do filho de um brâmane que se sente muito infeliz com a sua condição: “As abluções eram boas, mas eram água, não lavavam os pecados, não saciavam a sede do espírito, não acabavam com os temores do coração.” Depois de experimentar o prazer e a luxúria, é no rio, nas “linhas cristalinas dos seus contornos cheios de segredos”, que Siddhartha encontra a paz, a plenitude ou, em linguagem budista, o nirvana. Como o próprio Hesse escreveu numa conhecida carta, Siddhartha não aprende “a verdadeira sabedoria” com um professor, mas “de um rio que ruge de maneira engraçada e de um velho tolo e amável que está sempre a sorrir e é secretamente um santo”.
5. O Castelo, de Franz Kafka
No reino da máxima burocracia

Este livro destaca-se dos outros presentes nestas páginas porque não foi publicado em 1922. Mas, na verdade, cumpre rigorosamente o seu centenário por estes dias, pois foi escrito por Kafka entre janeiro e setembro desse ano. Como aconteceu com grande parte da obra do escritor, O Castelo seria publicado postumamente, pelos esforços do amigo Max Brod (contrariando as instruções de Kafka para que os seu manuscritos fossem destruídos depois da sua morte).
A primeira edição saiu, discretamente, logo em 1926, com o título Das Schloß – Kafka morreu em junho de 1924, aos 40 anos. Mas Brod não se limitou a dar à estampa o último, e inacabado, romance do seu amigo. Nessa edição, a sua intervenção foi mais longe, reorganizando capítulos e omitindo grandes passagens, tentando arrumar e ordenar uma obra dispersa, com pontas soltas. Mas essa identidade fragmentária e inacabada do romance de Kafka é que permite, afinal, enquadrá-lo na revolução literária da primeira metade do século XX (e as versões hoje publicadas respeitam os manuscritos originais).
O protagonista, K., é um agrimensor chamado para um trabalho às ordens das autoridades do Castelo. Acompanhamo-lo desde as primeiras frases –“Era noite cerrada quando K. chegou. A aldeia estava imersa na neve.” – e seguimos uma narrativa, obviamente kafkiana (como a do seu outro romance, O Processo, escrito em 1915), em que o protagonista não chega a perceber o que esperam dele e quem, de facto, manda no dito Castelo. Mais de 100 anos depois, os labirintos de Kafka continuam habitados pela Humanidade. Sempre atuais.
6. Terra Devastada, de T. S. Eliot
Um longo poema que sobressaltou o cânone

A primeira edição de Terra Devastada (The Waste Land) era dedicada a Ezra Pound (1885-1972), a quem deve muito corte-e-costura. As primeiras linhas do poema tinham sido rabiscadas no passeio marítimo de Margate, estava Thomas Stearns Eliot (1888-1965) a convalescer do “colapso nervoso” que o levara a ausentar-se das funções no banco Lloyds. Mas os primeiros versos, esses, tornaram-se uma citação de bolso até para os turistas da matéria poética: “Abril é o mês mais cruel, gera/ Lilases da terra morta, mistura/ A memória e o desejo, agita/ Raízes dormentes com chuva da Primavera (…)”.
A meteorologia desolada com que Eliot abre O Enterro dos Mortos (primeira das cinco partes do poema) transfigura-se num vendaval de vozes, narrativas alternadas e tempos não lineares, que cruzam lendas arturianas do Santo Graal e do Rei Pescador com Shakespeare, Ovídio, Virgílio, Dante, Baudelaire, livros sagrados do cristianismo e do budismo – e as neurastenias conjugais do autor.
Terra Devastada espelhou a condição humana do pós-Primeira Grande Guerra, a de indivíduos sem pé firme na terra, entre o real e o irreal, assolados por depressões e à procura de sentidos num mundo sem sentido. Deste longo poema, disse-se ser puzzle poderoso, obra-prima modernista inaugural, literatura tão cubista como Picasso, equivalente poético de A Sagração da Primavera, de Stravinsky… Em 1945, o escritor Evelyn Waugh homenageou-o no clássico Reviver o Passado em Brideshead: Anthony Blanche declama The Waste Land na varanda de Sebastian Flyte, acordando a velha Oxford. Mas Ezra Pound deu-lhe a lápide definitiva: o poema de Eliot era, escreveu, “suficiente para nos calar a todos”.
O conteúdo Colheita de 1922: Seis grandes livros centenários que merecem continuar a ser lidos aparece primeiro em Visão.