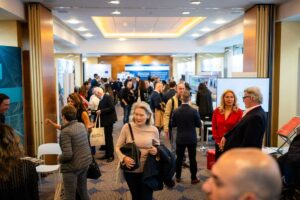Chega antes da hora marcada aos jardins do Palácio de Cristal, palco habitual dos passeios guiados que, há muito, Germano Silva faz da cidade. Quem o visse a caminhar pela Avenida das Tílias, passo apressado e firme, não lhe adivinharia a idade: 90 anos feitos nesta quarta-feira, 13, no mesmo dia em que lançou mais um livro de crónicas, Porto: As Histórias que Faltavam. “A minha vida não tem nada de especial”, dirá à jornalista (após um abraço, suspenso por um ano e meio de pandemia) o recoletor de histórias e o conhecedor da cidade do Porto como ninguém, à qual chegou ao colo da mãe desde São Martinho de Recezinhos, Penafiel, nos anos 30 do século passado. Filho de um guarda-freio e de uma criada de servir, o mais velho de quatro irmãos passou os primeiros anos com a avó Júlia, com quem aprendeu a “conhecer as árvores e o canto dos pássaros”. Aos 11 anos, começou a trabalhar numa retrosaria, depois numa fábrica de fósforos, mais tarde noutra de lanifícios. “Foram tempos difíceis, que me serviram como exemplo de vida. Nunca olho para trás com recriminações”, dirá. Já jovem adulto, voltou aos estudos, na Escola Comercial Oliveira Martins, ambicionando uma carreira nos seguros ou num banco. Acabou por se fazer jornalista – esteve 40 anos no Jornal de Notícias e, entre outros meios, passou por O Jornal e foi um dos fundadores da VISÃO, em 1993, onde era responsável pela delegação do Porto – movido pela curiosidade e o gosto de ouvir e de contar histórias, que o levaram a andar de alfarrabista em alfarrabista, durante sete décadas, à procura das entranhas do Porto. Recentemente, doou mais de mil documentos ao Arquivo Histórico Municipal que, no próximo dia 28, hão de dar uma exposição. “Germano é o Porto”, dizia o seu grande amigo e poeta Manuel António Pina.
Entrevista à sombra das tílias, na companhia de pavões, entre (perdoar-me-á o leitor a parcialidade…) a jornalista e um dos seus mestres – que, gentilmente, sempre a tratou por “princesa”.
Chama a este livro Porto: As Histórias que Faltavam. Porquê? Não será o seu último livro, pois não?
Espero que não. Nunca sabemos o que acontece daqui a uma ou a duas horas, mas espero continuar a escrever. Estive alguns anos sem publicar livros de crónicas e, durante os passeios nas ruas, as pessoas perguntavam-me por eles. Por isso, são as crónicas que faltavam para completar as outras, a pensar nessas pessoas que mas pediam.
Já lançou mais de 20 livros sobre a cidade. Ainda há muito por descobrir na História do Porto?
Há imensas coisas. Portugal ainda não era um País independente e o Porto já era um império comercial para a Flandres e a Inglaterra. Só há uma coisa de que tenho pena: que os portuenses não conheçam a sua cidade. Na Igreja de São Francisco, por exemplo, estão sepultados os homens grandes que fizeram o Porto. E esses sítios, onde está muita da História da cidade, não são conhecidos. Os meus passeios têm, sobretudo, o sentido de incentivar as pessoas a descobri-los.
Mas, confesse, qual é o segredo para se chegar aos 90 anos com uma saúde de ferro e toda essa energia que o faz calcorrear a cidade a pé como um rapaz de 20?
Não há segredo algum! É estar bem connosco. Quando eu comecei no jornalismo, houve lá uma zaragata entre uns colegas, daquelas que surgiam por causa do stresse do trabalho, e um chefe de redação deu-lhes um conselho: “Façam disto um modo de vida, e não um modo de morte!” O importante é encarar a vida com otimismo.
Mas sei que cuida bastante da sua alimentação. Como é possível que um homem do Porto nunca tenha provado uma francesinha?
Por uma razão: um dia, fui almoçar, com amigos, ao [restaurante] Capa Negra que era a meca da francesinha. Eu ia pedir uma, mas em frente a mim estava o nutricionista Emílio Peres, de quem eu era amigo. Ele ouviu a conversa e fez-me um sinal para não a comer. Portanto, troquei o prato por um bacalhau à Gomes de Sá, de que gosto muito. Nunca a provei, e sinto-me bem!

E também não bebe álcool…
A minha família era pobre, não havia dinheiro para pão e muito menos para vinho. Houve outra razão: um dia fui com um amigo de infância ver o jogo em que o [Futebol Clube do] Porto ganhou ao Arsenal, no Estádio do Lima [em 1948]. Saímos de lá exuberantes. Em frente havia uma taberna e pedi um negus [bebida quente à base de vinho do Porto]. Bebi uns dois goles. O meu amigo teve de ir embora, porque ia trabalhar. Eu ia a regressar a casa, mas, ao passar pela Praça da República, deu-me o sono e adormeci. Acordei com um polícia a bater-me com um cassetete e a dizer que eu tinha apanhado uma carraspana… A partir daí, nunca mais bebi.
Faz parte da Confraria do Vinho do Porto, mas também nunca bebeu um cálice?
Nunca provei vinho do Porto. Uma ocasião, o Cáceres Monteiro [primeiro diretor da VISÃO] telefonou-me e pediu-me para eu ir a um lançamento de vinhos na Feitoria Inglesa, apresentado pelo João van Zeller. Respondi-lhe: “Mas estás a brincar comigo? Eu não bebo vinho!” Telefonei a outros colegas dos jornais a perguntar quem ia, e enquadrei-me no meio deles com o meu copo de água [risos].
Teria uns 8 anos quando começou a II Guerra Mundial. Recorda-se das dificuldades desses tempos?
Sim, faltava muita coisa. A minha mãe acordava-me de madrugada para eu ir guardar lugar na fila do pão. Às vezes, no inverno, levava um cobertor. Ela ia trabalhar e depois, quando abria a padaria, ela vinha, porque não vendiam pão a crianças. Havia filas para tudo: para o sabão, azeite, arroz… Cheguei a estar em filas enormes no Mercado do Anjo para comprar batatas. Mas nunca passei fome. Com cinco tostões, a minha mãe comprava ossos no talho e fazia uma sopa maravilhosa.
A minha mãe acordava-me de madrugada para eu ir guardar lugar na fila do pão. Às vezes, no inverno, levava um cobertor
Andou na escola primária aqui em frente ao jardim [do Palácio de Cristal], onde estudavam os filhos de famílias abastadas da cidade. Como foi essa convivência?
Nesta zona viviam os Brito e Cunha, os Niepoort, os Van Zeller… E frequentavam a mesma escola. Alguns até eram trazidos pela empregada. Estávamos todos na mesma sala, mas a maioria dos alunos era gente muito pobre, que vivia nas “ilhas”. Vinham descalços, e eu também. Nós éramos os rapazes, eles os meninos. A Legião Portuguesa oferecia uma sopa a todos, mas os meninos traziam sanduíches com marmelada e queijo.
Nunca sentiu animosidade da parte deles?
Pelo contrário. Os meninos tiravam os sapatos para vir jogar à bola connosco.
Durante a infância e a adolescência, viveu em “ilhas” (habitação operária), sobretudo no bairro do Cruzinho, no Campo Alegre. Essa vivência influenciou-o muito? Marcou a pessoa em quem se tornou?
No sentido da partilha, sim. Por exemplo, doei agora mil e tal documentos para a Casa do Infante. Já doei para a Biblioteca de Penafiel… Dizem-me que os podia vender, mas acho que dar é melhor. Tenho muito este sentido da partilha e adquiri-o na “ilha”. Quando as pessoas falam das “ilhas” do Porto, ligam sempre aquilo a um estendal de miséria, mas não… É uma comunidade muito unida.
Contaram-me que a avó Júlia esteve prestes a pô-lo num seminário, mas acabou por não ir. É católico?
Sou, fui educado na religião cristã, mas sou muito crítico desta igreja atual, dos homens. É uma igreja economicista. Não concordo que, por exemplo, para se entrar na Catedral do Porto se tenha de pagar. Para ir aos claustros ou ao museu, tudo bem, porque há um trabalho de conservação, mas numa igreja? É um sítio de oração.
A cidade aos seus pés
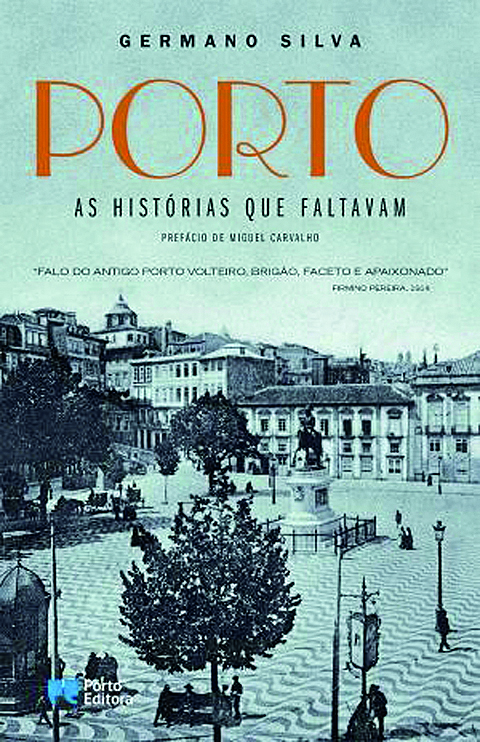
As mais de 50 crónicas reunidas em Porto: As Histórias que Faltavam (Porto Editora, 224 págs., €15,50) são “algumas das mais sugestivas pequenas histórias da grande História do Porto”, diz o autor, Germano Silva. A Fonte da Arca, A Inquisição no Porto, A Casa dos Melos, As Carvalheiras, A Praça da Ribeira, D. Pedro V e o Porto, O Casino da Foz… levam-nos pela mão deste garimpeiro de histórias, feito historiador, “com um curso tirado no conhecimento da vida”, apaixonado pela cidade que sempre foi sua. É mais um conjunto de meia centena de crónicas, publicadas semanalmente, desde os anos 90 do século passado, na coluna do Jornal de Notícias, À Descoberta do Porto, à semelhança das que o jornalista escreveu na VISÃO Se7e, Um Passeio pelo Porto e Histórias Portuenses. Com prefácio de Miguel Carvalho, grande-repórter da VISÃO, que o identifica como “a pele do Porto”, inclui um texto inédito sobre a cidade em 1931, ano em que o autor nascia a 13 de outubro. Livro fundamental para se conhecer o património, a História e os saberes, na sequência de outros como Porto, Profissões (quase) Desaparecidas, Nos Atalhos da História, Histórias e Memórias ou Da História e da Lenda.
Em 1956, depois de ter passado pela secretaria do Hospital de Santo António, entra como colaborador de desporto no Jornal de Notícias, onde passou por todas as categorias até chegar a chefe de redação. A época da censura foi difícil?
Era terrível. As pessoas julgam que a censura proibia que se dissesse mal do governo, mas ela também servia amigos. Por outro lado, obrigava-nos a pôr a imaginação a funcionar. Por exemplo, como se escrevia uma notícia sobre uma rapariga que apareceu nua no Morro de Gaia? Tínhamos de escrever que “estava descalça até ao pescoço”. Ou sobre um tipo que se enforcou em casa? Tínhamos de dizer que “morreu vítima de um acidente que lhe provocou a morte por asfixia”. Para os jornalistas, a censura foi terrível, porque não permitia contar os factos. Agora, quem eram os censores? É o estudo que falta fazer…
Na noite do 25 de Abril estava com o seu colega de profissão e amigo Manuel António Pina…
O Pina havia saído da tropa há pouco tempo, tinha muitas ligações e sabia que a coisa estava para breve. Estávamos no Notícias. Numa noite, saímos para ir comer umas iscas à Lapa e, ao passar no quartel-general, vimos uns movimentos. “É hoje”, diz o Pina. Voltámos para o jornal e já não saímos.
Foi o seu grande companheiro, tanto na profissão como na vida?
Foi muito importante para mim. Eu andava sempre com ele, de tal maneira que as pessoas ligavam para o meu telemóvel quando lhe queriam falar. Era uma pessoa extraordinária. Senti muito a falta do Pina, porque ele congregava um conjunto de amigos à sua volta. Com a morte dele os amigos continuam, mas já não é a mesma coisa. O Grupo dos Amigos à Espera do Pina [associação fundada, em 2013, por amigos do escritor, Prémio Camões 2011] continua à espera dele.
Como vê o jornalismo atual?
Há jovens jornalistas muito bons, tenho muito respeito por eles. Só que hoje a estrutura das redações dos jornais não permite que eles ponham cá fora a sua criatividade. É tudo feito a partir da internet. É o império dos sentados. Tenho pena, porque há jornalistas com capacidades extraordinárias. Muitos são precários, sem vínculo, e vivem numa permanente angústia. Isso custa-me. O jornalismo, hoje, é diferente. Eu tinha de ir para a rua, ver as coisas.
Por causa dessas idas à rua, costuma dizer que se tornou historiador da cidade “por deformação profissional”. Explique melhor…
Houve um incêndio na Rua de Santa Catarina. Fui lá, mas aquilo não era nada, só um fumo negro. Não tinha coisas para escrever uma grande notícia, mas o colega do [O Primeiro de] Janeiro contou a história daquela casa onde tinha nascido Arnaldo Gama, um grande romancista do Porto. O chefe chamou-me e disse-me: “Não saber não é mau, agora não querer saber é que é pior. Por que razão a Rua da Firmeza se chama da Firmeza? Para seres um grande repórter da cidade tens de conhecer a cidade, contar histórias.” Comecei pelo Anuário Santos Viseu, que era a nossa internet na altura, a ver as ruas que tinham mudado de nome, a andar nos alfarrabistas [especialmente Nuno Canavez, da Livraria Académica, colega na escola comercial]… Fiz a coleção d’O Tripeiro, na [Livraria] Moreira da Costa. Procurei saber sobre o Porto e a juntar muita coisa.

E é parte desse acervo que doou recentemente ao Arquivo Histórico Municipal, na Casa do Infante? Foi difícil desfazer-se das suas coisas?
É gratificante, porque sei que estará ao serviço das pessoas que o queiram consultar. O meu sentido é o da partilha, tal como aprendi ao viver na “ilha”. E fico contente quando a bibliotecária de Penafiel me diz que também esse meu arquivo está sempre a ser consultado.
Por isso, foi (e é) muitas vezes requisitado por escritores, aquando da escrita de livros. Agustina Bessa-Luís costumava fazê-lo…
A Agustina era especial, porque ela era de Vila Meã, freguesia mesmo ao lado da minha, São Martinho de Recezinhos. Chamava-me conterrâneo. Quando escreveu o livro Um Bicho da Terra, sobre um judeu, telefonou-me, várias vezes, a perguntar como eram aquelas ruas… E ainda há dias o [Richard] Zimler me telefonou a querer saber se uma determinada rua já era empedrada numa determinada época, para incluir em alguma coisa que deve estar a escrever.
Além do Porto, o Oriente é outro dos seus fascínios. Foi 15 vezes à China… De onde lhe veio essa atração?
Através dos livros de Emílio Salgari. Quando andava na instrução primária, o pai de um colega tinha uma biblioteca muito boa, e o filho alugava-me os livros a cinco tostões por dia. Li assim os primeiros e depois andei nos alfarrabistas à procura deles (Sandokan, As Aventuras de Um Corsário, O Tigre da Malásia…). A descrição do ambiente no Oriente fascinava-me. Fui à China pela primeira vez como jornalista. Depois, fui três vezes ao Tibete, fiz a chamada Rota da Seda, andei nas minorias étnicas (são 40 e tal, só visitei cinco), fui a Singapura, Malaca, Tailândia… Estar numa aldeia remota e descobrir que faziam arrozais na montanha; ou um casal que me convida para entrar em casa, sem perceber o dialeto deles, era algo fascinante! Só temia que me oferecessem bebidas alcoólicas. Por isso, a minha preocupação era pedir uma caneca de água. As pessoas são maravilhosas e depois vêm os políticos e estragam tudo.
Chegou a ser sondado e assediado para a vida política?
Muitas vezes, para participar em listas, dar apoios… Ainda agora nestas últimas eleições. Disse que não a muita gente, e alguns não me compreendiam. Eu dizia que ainda era jornalista e que não iria tomar partido. A seguir ao 25 de Abril, vieram ter comigo a dizer que o Mário Soares gostava muito de que eu ficasse aqui no Porto. Do [Francisco] Sá Carneiro também, mas eu dizia que cartões só queria dois, o do Futebol Clube do Porto e o do Sindicato [de Jornalistas]. A única vez em que não consegui dizer que não foi na lista de Fernando Gomes [à Câmara do Porto, em 2001], mas apareci como substituto num lugar onde não era elegível. E nesse ano ele perdeu…
Recebeu medalhas de mérito, Grau Ouro, das câmaras do Porto e de Penafiel, foi doutorado honoris causa pela Universidade do Porto, agraciado com a Ordem de Mérito, grau de Comendador, pelo Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa… Esses títulos nunca o mudaram?
Não, entendo isso como o reconhecimento do trabalho que tem sido útil para as cidades. Não me sobe à cabeça.
O jornalismo, hoje, é diferente. Eu tinha de ir para a rua, ver as coisas
Há anos que inclui a Comissão de Toponímia da Câmara Municipal do Porto. Um dia, com certeza, irá ter o seu nome numa rua. Onde gostaria que ficasse a Rua Germano Silva?
Nunca pensei nisso, mas apreciaria que fosse à beira-rio. Vivi em Massarelos, andei sempre aqui à beira do Douro, porque era uma atração. Gostava de que fosse por aí, mas não penso nisso.
Como viu o seu Porto durante os confinamentos motivados pela pandemia?
Horrível. Dei sempre as minhas caminhadas, saía às seis da tarde e voltava duas horas depois, mas não me cruzava com ninguém. Via a cidade deserta. Para mim, era uma tristeza. Senti falta de ir ao futebol, fazia parte de uma rotina. Costumava ir com o Álvaro Magalhães a pé; antes ou depois íamos comer uma vitela ao [restaurante] Caetano, na Avenida Fernão de Magalhães… Este convívio para lá e para cá era saudável. Espero que isto tenha passado e que possamos continuar a conviver.
E como foi ver a cidade sem a festa de São João, durante dois anos seguidos?
Muito triste, passei-o em casa. Imaginei uma cidade sombria. Ouvia de vez em quando um foguete. Do meu pátio das traseiras, ainda vi um ou outro balão. Estudei muito as festas de São João lá para trás, e não me lembro de nenhuma ocasião em que tivessem parado. Mesmo durante a Patuleia, uma guerra civil no Porto [em 1846], quando andavam por aí aos tiros, se festejou o São João. Espero que no próximo ano se possa voltar às ruas.
Nas próximas décadas, como imagina o Porto? Tem receio de que a turistificação o estrague?
Vai continuar a atrair muita gente. Se não o estragarem, tem condições para ser uma cidade atrativa. Costumo comparar esta época com a Idade Média, em que o Porto andava cheio de peregrinos vindos de Roma (os romeiros), do Oriente (os palmeiros)… Eram fonte de intervenção cultural, e hoje é o mesmo: os turistas são os peregrinos da nova geração. Precisamos deles para que desenvolvam a economia, mas tem de ser com regras.
Sente que a cidade lhe está agradecida?
Sim, sinto isso até nas pessoas. Entro em certos cafés e restaurantes e não pago [risos]. O que, para mim, é esquisito, porque isso inibe-me de lá voltar.